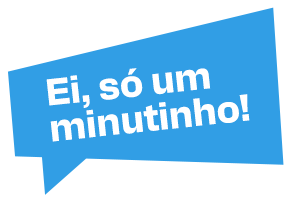|
O Brasil é um país que produz muitos alimentos, e o faz por meio de uma agricultura intensiva, que é um sistema que usa técnicas de produção como biotecnologia e a genética, para aumentar a produtividade e reduzir o tempo de produção.
Isso pode soar como algo benéfico, mas esconde os verdadeiros malefícios.
As práticas intensivas de produção de alimentos estão diretamente ligadas à mudança climática global, como o fato de que esgotam o solo, destroem o meio ambiente e são responsáveis por emissões que causam aquecimento global.
Acompanhe as próximas edições pois aprofundaremos essa questão de como as mudanças climáticas estão afetando os biomas e a alimentação numa relação causa x efeito. Cada conteúdo referente ao universo de sistemas agroalimentares pode ser lido e entendido de maneira individual, mas se você tem interesse em entender esse fio de raciocínio, acesse a primeira edição sobre o assunto aqui.
E foi esse mercado que enxergou na produção intensiva de determinados alimentos, como o açaí, um nicho de empreendedorismo e uma forma de lucrar ainda mais às custas de um bioma e de uma população que tem a fruta como referência para a alimentação tradicional.
É por meio da história de como o açaí caiu nas graças do restante do país e do mundo que é possível perceber o quanto a interferência de grandes proprietários de terra e da economia podem alterar a cultura alimentar existente em um território.
Por séculos, o açaí foi um alimento básico de povos originários da região amazônica, consumido em forma de um creme grosso, acompanhado de farinha d’água ou peixe frito.
Foi e é parte do cotidiano, carregando não só valor nutricional, mas também identidade cultural, afetiva e territorial.
Ali, por volta da década de 80, uma família de empresários, naturais de Belém mas radicalizados no Rio de Janeiro, associou o consumo da fruta à prática de esportes.
Para a população nortista, o açaí com farinha de mandioca é como o arroz e o feijão consumidos em outras regiões.
Mas ele viajou o país e foi adaptado aos paladares do Sul e do Sudeste, virou um lanche repleto de xaropes, corantes, conservantes e aromatizantes, se tornou um ultraprocessado bem distante da versão original.
Isso não apenas descaracteriza seu uso tradicional como também interfere na percepção que se tem do fruto.
Será que quem consome açaí com cobertura de leite condensado e whey protein compreende o valor cultural e ambiental associado a ele?
A crescente valorização comercial do açaí no mercado global tem alterado profundamente a rotina e a economia das famílias paraenses.
Em comunidades tradicionais, onde o açaí era colhido para o próprio consumo ou vendido localmente a preços acessíveis, o fruto passou a ser disputado por atravessadores e grandes empresas.
Isso encareceu o açaí na própria região produtora, tornando difícil para as famílias de baixa renda continuarem utilizando ele no cardápio diário.
O que antes era um alimento básico, nutritivo e repleto de identidade cultural, afetiva e territorial, agora, muitas vezes é substituído por versões ultraprocessadas do açaí ou outros produtos que não fazem parte da cultura alimentar regional.
Além disso, a alta demanda externa gera uma pressão produtiva que modifica os ritmos tradicionais de colheita, incentiva o desmatamento para ampliar a produção e reduz a diversidade das espécies de açaí cultivadas.
Se, naturalmente, o açaí crescia na beira dos rios, agora vem sendo produzido como se fosse um grande monocultivo, causando a derrubada da vegetação nativa, ocasionando o esgotamento do solo, diminuindo a biodiversidade e interferindo nos ciclos ecológicos da região.
A desvalorização dos saberes locais diante da padronização industrial também contribui para o apagamento de práticas culturais e comunitárias.
A experiência coletiva em torno do alimento — de subir no açaizeiro, colher, bater e compartilhar — vai sendo substituída pelo consumo rápido, embalado e distante.
A juventude paraense, que muitas vezes crescia aprendendo a extrair e a preparar o açaí de forma artesanal, agora encontra cada vez menos espaço para manter essa relação direta com o fruto.
Sem políticas públicas que valorizem a agricultura familiar, o extrativismo sustentável e a permanência no campo, muitos acabam migrando para as cidades em busca de oportunidades, aprofundando processos de urbanização precária.
Preservar a cultura alimentar dos biomas significa:
- Reconhecer a importância dos alimentos em seu território;
- Respeitar o ciclo natural de produção;
-
Valorizar o saber local;
- Garantir justiça social na cadeia produtiva.
O caso do açaí é um alerta: quando um alimento se torna mercadoria sem controle social e ambiental, o que se perde vai muito além do sabor — perde-se também memória, tradição, biodiversidade e autonomia alimentar.
Proteger alimentos como o açaí, é preservar a Amazônia, é garantir que o futuro da alimentação seja sustentável e plural, não padronizado e excludente.
É entender que comida não é apenas nutriente — é cultura, é política, é vida.
|