O guardião da internet
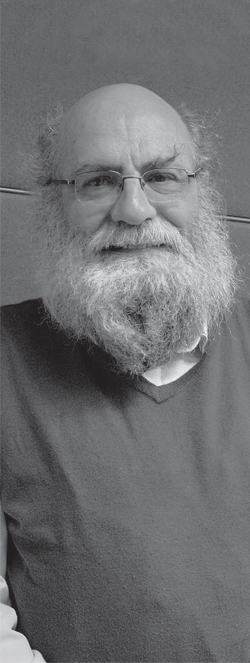
A internet virou assunto praticamente obrigatório na imprensa brasileira nos últimos meses. Primeiro, pela indesejável possibilidade de adoção de franquias de dados na banda larga fixa, que provocou grande reação social. Depois, com a regulamentação do Marco Civil da Internet, lei criada há dois anos e elogiada mundialmente. O decreto foi finalmente publicado em maio.
Para explicar as questões técnicas por trás desses assuntos, ninguém melhor do que Demi Getschko, considerado o "pai" da internet no Brasil e membro do Comitê Gestor da Internet (CGI), órgão responsável por estabelecer diretrizes estratégicas para o uso e desenvolvimento da internet no país. Nesta entrevista, realizada na sede do CGI no fim de maio, Getschko comenta questões importantes e levanta a bandeira de uma rede livre e acessível.
Qual é o papel do CGI? Ele mudou ao longo do tempo com a expansão do acesso e da importância da internetpara a sociedade?
Demi Getschko: O CGI sempre teve como função ser um fórum de representantes dos diversos setores que têm interesse no desenvolvimento da internet. Ele não é regulador, nem mandatório, mas sim um órgão balizador. A meta básica do CGI é batalhar por uma boa internet – uma rede livre e acessível. É um órgão que mapeia e gera estatísticas sobre a internet, cria normas sobre segurança e boas práticas e tenta cuidar do desenvolvimento da rede. A partir de 1998, quando começou a ter recursos próprios vindos do registro do [ponto] BR, o CGI passou a desenvolver atividades complementares, como cartilhas de segurança, grupos de trabalho para estudar IPv6 [versão mais atual do Protocolo de Internet] etc.
Uma resolução do CGI de 2009 é considerada a "origem" do Marco Civil da Internet, aprovado há dois anos e regulamentado recentemente. Como um de seus idealizadores, qual é a sua avaliação sobre o formato final da lei?
DG: O Decálogo [de Princípios para a Governança e o Uso da Internet] é um conjunto de conceitos que criamos para serem usados por eventuais legisladores ou até pela Justiça, respeitando as características da internet. Ele surgiu como consequência do caso [da apresentadora Daniela] Cicarelli, que tentou tirar o Youtube do ar. Decidimos tentar separar o que é a internet do que é o conjunto de ações que os usuários da internet fazem (pode haver crimes, pode ter uma porção de coisas, mas a internet em si não é a culpada).
Esse decálogo levou aproximadamente dois anos para ser feito. Foi muito bem recebido lá fora. Em particular no Brasil, gerou o movimento que culminou na criação do Marco Civil. Os que entendem do assunto, como Tim Berners-Lee [físico britânico, criador web], não economizaram elogios, dizendo que era a legislação mais avançada de proteção à internet e aos conceitos que a rede trouxe.
Antes do Marco Civil, havia várias propostas de legislações punitivas [sobre internet], mas que faziam isso sem saber exatamente qual era o jogo que estava sendo jogado. O Marco Civil define as regra do jogo: o que é internet, quais são as expectativas do usuário, o que se imagina em relação à rede etc.
O senhor citou o caso Cicarelli x Youtube. Atualmente, é o WhatsApp que vem sendo bloqueado em função do descumprimento de decisões judiciais. Qual é a sua opinião sobre isso?
DG: A internet é uma tecnologia de ruptura que quebrou diversos conceitos, entre eles o de legislação nacional. A primeira pergunta que faço é: o WhatsApp, por ser acessível no Brasil, está ou não sujeito à legislação nacional? Essa é uma tensão não resolvida, não tenho a resposta. Mas acho, em primeiro lugar, que se alguém fez algo errado [na internet], ele é o responsável, não a ferramenta. Ninguém pensou em tirar do ar o telefone celular porque líderes de facções criminosas organizam crimes a partir de presídios. Então, não podemos usar essa solução para a internet. No caso do WhatsApp, além de tudo, foi usado o argumento de que o Marco Civil permitia [o bloqueio], quando a lei foi criada para impedir coisas desse tipo.
Para alguns especialistas, a regulamentação do Marco Civil proíbe o zero rating, ou seja, o acesso "grátis" a determinadas aplicações, sem descontar da franquia de dados. O senhor concorda?
DG: Acredito que a neutralidade [de rede] tem a ver com não existir privilégio ou impedimento de passagens de pacotes ou produtos de serviços pela internet. Eu não vejo violação desse princípio no zero rating, pois significa simplesmente algo que é cobrado ou não. É como na ligação 0800 da telefonia, uma empresa pode oferecer a chamada gratuita para o usuário e quem paga é ela. O zero rating é uma consequência direta da existência da franquia de dados. Podem ter coisas que precisariam ser mais bem explicadas [no zero rating], mas não em relação à neutralidade. Talvez do ponto de vista de concorrência ou de práticas comerciais abusivas, mas não entro nesse mérito.
Em relação à franquia de dados, o senhor disse na audiência pública da Câmara dos Deputados (realizada em 18/5) que não há justificativa técnica para sua adoção na banda larga fixa, mas que ela é razoável na internet móvel. Por quê?
DG: Não é questão de ser razoável. Existe um discurso, que de alguma forma aceitamos, de que na internet móvel não dá para garantir uma banda, pois ela é baseada em telefonia celular. Se eu estiver vendo um jogo no estádio com mais 30 mil pessoas e a rede de celular daquela região for precária, vou ter uma velocidade [de internet móvel] muito ruim. O argumento de que não dá para garantir velocidade foi usado para introduzir a franquia: em vez de vender velocidade, vende-se quantidade. Nós aceitamos isso, e o mundo está funcionando assim.
Agora, esse argumento está sendo trazido para a internet fixa. Eu o acho fraco. Primeiro, não é verdade que a internet seja ilimitada sem franquia, porque ela é limitada pela banda. Nos velhos tempos da rede acadêmica [quando a internet estava disponível apenas nas universidades], as bandas eram muito estreitas e ficavam congestionadas 24 horas por dia, era um sufoco para conseguir entregar um correio eletrônico. Evidentemente, as bandas foram crescendo. O risco é que, às vezes, a fim de ganhar mercado, alguém anuncia mais banda do que consegue entregar e resolve limitar de outra forma. O mecanismo original sempre foi alugar a banda ou o tempo. Não vejo por que isso de repente virou inviável.
Então o argumento das empresas de que o aumento da demanda por dados pode gerar um "colapso" na rede não procede?
DG: Para falar de forma fria, esse aumento da demanda de dados é promovido pelo aumento da oferta de banda aos usuários. Então, imagino que se oferecem mais banda é porque têm condições de entregar. Além disso, não há uma proporcionalidade entre a oferta de mais banda e o custo – duas vezes mais banda não significa custo duas vezes maior. No passado, a internet estava basicamente fora [do país], mas hoje boa parte do conteúdo de entretenimento da internet foi alocada perto do provedor e não gera a ele um gasto enorme por ter de buscar isso nos Estados Unidos ou na Europa, como na velha internet. Em suma: o argumento de que o crescimento do uso de entretenimento elevou o custo deve ser visto como um grão de sal, pois esse custo não é proporcional.
O Brasil ainda vive um grave problema de falta de acesso à internet fixa. Levantamento do DataSenado aponta que dois terços dos domicílios brasileiros não tinham acesso ao serviço no fim de 2014. Por que a internet fixa ainda é tão limitada e como reverter essa situação?
DG: O Brasil é um país muito grande, não dá para comparar com Cingapura, Coreia do Sul ou Japão. Não é fácil levar fibra ótica para pequenas localidades que estão longe dos grandes centros de conexão. Além disso, em muitos locais não há atrativo comercial, então os grandes operadores não têm interesse. Nesse contexto, tem de ter política pública. Acredito que um governo realmente interessado na participação do cidadão tem de buscar incluí-lo na rede. E isso provavelmente não será feito só com as empresas privadas, porque elas não têm interesse de ir para os rincões. Certamente tem de ter investimento público também.
Outro ponto negativo é a forte concentração na oferta de internet fixa: apenas três grupos detêm quase 90% do mercado. O que pode ser feito para ampliar a competição, considerando que as grandes teles detêm boa parte da infraestrutura?
DG: Isso é uma verdade e não é fácil resolver esse problema porque [a oferta de internet fixa] depende de infraestrutura instalada nas cidades. Não tem como [novos provedores] saírem imediatamente competindo. A concorrência vai se limitar a dois, três ou quatro [empresas] por algum tempo, porque depende de infraestrutura que não há nas cidades e não é trivial instalá-las, é caro. Em vários países desenvolvidos as opções da internet fixa são muito mais escassas do que as de internet móvel.
Enquanto a internet fixa ainda patina, o uso pelo celular se intensifica no Brasil. Considerando os acessos móveis, 50% dos domicílios brasileiros tinham internet em 2015. A internet móvel é capaz de garantir minimamente o direito à comunicação?
DG: A internet móvel é muito mais fácil, pois a empresa põe uma antena em um lugar e atende a toda a região. Mais do que isso, é um serviço que tem um retorno [financeiro] proporcional ao uso, o que lhes dá mais conforto. No entanto, acho que internet móvel não deve ser sinônimo de inclusão digital. É totalmente diferente a postura do usuário na internet do celular e em um equipamento fixo na casa dele. A postura em casa é reflexiva, enquanto a internet móvel é instantânea, telegráfica e superficial. Por exemplo, se você quer fazer educação à distância, não vai fazer no celular. Um juiz não vai decidir um caso lendo o processo no celular. São coisas complementares, mas, para mim, inclusão digital tem a ver com internet fixa na casa do indivíduo. Dizer que todo mundo está incluído porque tem celular não faz sentido. O Brasil tem mais celulares do que habitantes, então, não só estaria incluído, como já teria extravasado [o acesso].
